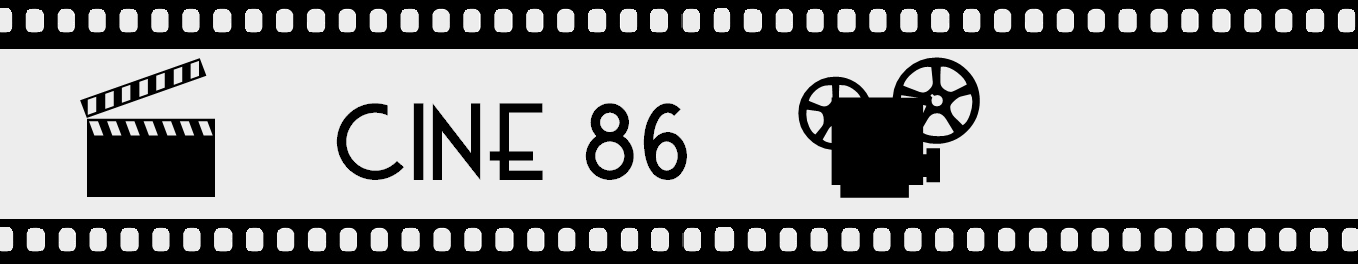A premiação do 92º Oscar, que ocorreu na noite do dia 09 de fevereiro de 2020, pode ter tido vários problemas. Um dos principais é a queda da audiência, que está no pé da Academia ano após ano, e mesmo tentando encurtar a premiação com a exclusão de um apresentador principal, e antecipando o horário da mesma, a grande noite do cinema segue em baixa com o público. Mas pela primeira vez em muitos anos há uma (quase) unanimidade quanto ao vencedor principal da noite, Parasita, de Bong Joon-ho, que conquistou corações ao redor do mundo e quebrou um tabu histórico na indústria cinematográfica ao vencer os principais prêmios da noite sendo um filme sul-coreano, não falado em inglês.
Além de Parasita, o público abraçou outros filmes que cativaram muita gente, como Jojo Rabbit e sua crítica ao nazismo aos olhos de uma criança, 1917 e seus longos planos sequências, Little Women e sua modernidade ao adaptar um clássico da literatura norte-americana, Marriage Story e seu drama sobre divórcio, Once Upon A Time In Hollywood e sua tarantinesca homenagem ao cinema, e o aclamado Joker e sua narrativa madura ao contar a história de origem um vilão. Porém, além dessas fantásticas obras, há outros indicados que não receberam a devida atenção e acabaram ficando num canto esquecido desta noite de domingo. São filmes que foram indicados em alguma categoria, que possuem certa qualidade, mas que ao terminar o “boom” do Oscar temo que não irão chegar aos olhos de muita gente, e penso que deveriam. Alguns tiveram certo destaque durante todo o ano passado e começo deste ano, mas por conta alguns preconceitos cinematográficos e outras questões, algumas pessoas os ignoraram.
Começando por uma categoria que pouquíssimas pessoas se dispõem a acompanhar: Melhor Documentário em Longa-metragem. Finalmente o Brasil voltou a Oscar com o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, mas o vencedor da noite acabou sendo American Factory, de Steven Bognar e Julia Reichert, distribuído pela Netflix e realizado pela produtora de Barack e Michelle Obama. Mas um filme-documentário muito curioso que concorria também é Honeyland, dirigido por Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, que conta história de uma apicultora da Macedônia do Norte, que vive numa região afastada do centro urbano e cuida da sua mãe doente. A vida dela começa a mudar significativamente quando uma família passa a morar próximo a ela. O trabalho da dupla de diretores concorria também como Melhor Filme Internacional, e é muito significativo para uma produção pequena e de um país quase desconhecido. É um trabalho singelo e sincero, sem narração alguma ou apresentações desnecessárias: apenas mostra a vida daquela simples mulher num determinado período de tempo, convivendo com o meio ambiente ao seu redor e com as novas pessoas que chegam.
Outro que merece destaque nessa categoria e For Sama, de Waad Al-Kateab e Edward Watts. O documentário narra um pouco da vida de uma mulher durante a Guerra Civil Síria: mostra seus amigos, bombardeios, o trabalho em hospitais, o desespero das pessoas e a tristeza que nasce da perda. A diretora, que é a personagem que nos narra a história, conta tudo isso pensando em sua filha, Sama, e faz tudo por ela. Tudo para ela poder viver num lugar melhor, um lugar livre e pacífico. Al-Kateab não nos poupa dos detalhes ao mostrar os feridos da guerra, o parto de uma mulher e o milagre da vida. Nos mostra que nem só de tragédia vivem as pessoas que lá estão, mas que ainda assim é pior do que pensamos. É real e cruel, e mesmo sendo um documentário às vezes nos perguntamos se aquilo é ficção ou não.
Uma categoria bem concorrida e bastante popular é a de Melhor Filme de Animação, que sempre traz grandes estúdios como Disney e DreamWorks entre os indicados. Este ano não foi diferente e Toy Story 4 saiu vencedor em cima do seu rival de estúdio, How To Train Your Dragon: The Hidden World, e os premiados Klaus e Missing Link. Porém, é curioso que o francês J'ai Perdu Mon Corps (Perdi Meu Corpo), de Jérémy Clapin, tenha garantido uma vaga entre os gigantes. O filme, distribuído pela Netflix, narra a história de uma mão decepada buscando seu corpo, enquanto mostra a história de um garoto, mesclando passado e presente. A animação é realizada com traços tradicionais buscando o realismo, mas nunca tentando deixar de ser um desenho, e nisso já mostra a sua simplicidade. A história tem seus momentos de humor, mas o drama e um possível romance englobam a narrativa em boa parte do tempo. Nós acompanhamos a vida do personagem principal em períodos da sua infância, um garoto muito interessado em aprender e com uma família atenciosa, e enquanto ele é um jovem adulto, quando as incertezas e solidão tomam conta dele. É interessante em como o diretor transita entre a história dramática e romântica do garoto e a história, também dramática mas com tons de suspense da mão decepada, que anda pelas ruas sem poder ser vista.
Um diretor jovem que está cada vez mais em alta em Hollywood é Robert Eggers, que nos presenteou ano passado com The Lighthouse, indicado a Melhor Fotografia. Nesta categoria, Roger Deakins acabou vencendo por 1917, muito por conta dos seus imensos planos sequências e toda a maquete que teve que ser feita antes das filmagens. O trabalho de Deakins é fenomenal e parte importantíssima do filme, assim como o trabalho de Jarin Blaschke em The Lighthouse. Esse é o segundo trabalho da dupla Eggers-Blaschke, que iniciaram a parceria em 2015 com The Witch. Toda a fotografia em preto e branco é uma personagem do filme, que conta a história de dois faroleiros, um jovem e um mais velho, que vão trabalhar em uma ilha pequena e isolada. Além da fotografia, que realiza bem a demonstração de loucura, isolamento e medo, as atuações de Willem Dafoe e Robert Pattinson merecem destaque. Enquanto Dafoe já está consolidado há anos na indústria, e ano após ano vem nos surpreendendo com ótimas atuações (At Eternity's Gate, 2018 e The Florida Project, 2017), Pattinson se reinventou após explodir ao mundo com a saga Twilight (2008-2012), atuando em filmes como The Lost City Of Z (James Gray, 2016), Good Time (Safdie Brothers, 2017) e High Life (Claire Denis, 2018).
Em 2016 o diretor James Gray trabalhou com Pattinson, e este ano ele aparece no Oscar com apenas uma indicação para seu filme, Ad Astra: Melhor Mixagem de Som. É triste que um filme como esse tenha apenas uma indicação em uma categoria técnica. Claro que essa edição do Oscar estava muito concorrida, com excelentes filmes indicados e outros ótimos correndo por fora. Porém, este é um filme que caberia muito bem em Melhor Filme, visto que ficou sobrando uma vaga que não foi preenchida por ninguém, e sendo um filme com temática espacial e tendo Brad Pitt como protagonista, o filme seria uma ótima escolha para estar lá.
Ad Astra é um filme sobre um astronauta que embarca numa missão espacial para ir atrás de seu pai, que também é astronauta. A temática espacial estava em alta anos atrás na Academia, com filmes como The Martian (Ridley Scott, 2015), Interstellar (Cristopher Nolan, 2014), Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) e até Arrival (Denis Villeneuve, 2016), que conversa com o tema, garantiram várias indicações ao Oscar, mas atualmente ela parece não se interessar como outrora se interessou. Nesse novo trabalho de Gray, o diretor mostra maturidade ao trabalhar um tema de uma maneira muito pessoal e intimista, algo similar ao trabalho de Cuarón em 2013, mas com particularidades bem distintas.
Um diretor que está sendo reconhecido agora pelo grande público é Rian Johnson, que dirigiu Star Wars: The Last Jedi em 2017. Antes disso, Johnson já havia trabalho como diretor na série Breaking Bad (2008-2013) em episódios bem distintos: o aclamado Ozymandias (S05, EP 14); e o polêmico Fly (S03, EP 10). Seu trabalho em Star Wars também foi polêmico, uns odiaram, outros amaram, mas ele deixou sua marca e mostrou para Hollywood que tinha assinatura. Em 2019, com Knives Out, Johnson mostrou ainda mais que tinha muita história para contar dentro da indústria cinematográfica.
Neste filme, o diretor narra uma história clássica de detetive: houve um assassinato numa mansão e dezenas de pessoas passam a ser culpadas, e para resolver o crime é chamado um peculiar detetive. Muito inspirado nas obras de Agatha Christie, Johnson consegue fazer uma história cheia de reviravoltas e com críticas sociais, e muito por conta disso o filme acabou sendo indicado na categoria de Melhor Roteiro Original, perdendo para Parasita. Apesar da história parecer clássica, os rumos que o roteiro toma não são tão clássicos assim. É um delicioso exercício descobrir quem é o culpado.
Em contraponto com essa juventude de cineastas (Eggers, 36 anos; Gray, 51 anos; Johnson, 46 anos), um velho conhecido ressurge com uma obra de destaque. Clint Eastwood (89 anos) mostra ao mundo que mesmo sendo um conservador republicano consegue fazer bons filmes que incitam vários debates. Richard Jewell conta o caso real de um segurança que descobre uma bomba durante um evento nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. O homem, Richard Jewell, salvou muita gente por conta disso, mas por muita pressão popular e irresponsabilidade da imprensa na época, foi cogitado como um dos culpados do atentado. Ou seja, o homem que descobriu a bomba foi acusado de ter colocado o objeto explosivo. É uma história curiosíssima que mostra a influência que a mídia tem sobre casos de grande destaque. Algo parecido ocorreu no Brasil alguns anos antes desse caso, em 1992: o Caso Evandro. Foi quando uma criança despareceu e dias depois acharam o corpo de uma criança, então a população na época começou a apontar possíveis culpados, e a mídia comprando essa ideia influenciou muito no caso que é magistralmente narrado por Ivan Mizanzuk no podcast Projeto Humanos.
Histórias trágicas em que a grande mídia tem muita influência é muito comum, e Eastwood nos mostra a fragilidade que houve neste caso quanto a isso. O diretor consegue nos colocar como alguém que estivesse vivendo aquela época em tempo real: ora acreditávamos que era culpado, ora inocente. A história e a persona de Richard nos dão motivos para crer em sua culpabilidade, porém não há prova alguma disso. Clint, após anos, realiza um filme digno de toda a sua obra, mas que infelizmente só concorreu ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, com Kathy Bates interpretando a mãe de Richard.
Nas categorias de atuação o Oscar indicou a única mulher negra para a sua premiação do ano: Cinthya Erivo, interpretando Harriet Tubman em Harriet, de Kasi Lemmons, foi indicada para Melhor Atriz. Erivo faz uma personagem interessantíssima da história norte-americana, mas infelizmente o filme não colabora para ser tão grandioso quanto a história que quer contar. Harriet foi uma mulher, escrava, do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana, que fugiu para o norte, mas depois voltou várias vezes para ajudar centenas de escravos a conseguirem sua liberdade. Além disso, foi a primeira mulher a liderar uma expedição armada na Guerra Civil.
Harriet é uma personagem incrível, com uma história que ajudou a moldar os Estados Unidos, tanto por conta do ativismo negro durante e depois da Guerra quanto por conta do ativismo por direito das mulheres do fim da sua vida. Lemmons nem de longe consegue nos passar a grandeza dessa mulher, mas Erivo tenta nos emocionar e acreditar naquela história por mais miraculosa que pareça. Apesar da direção e roteiro serem fraquíssimos, Harriet e sua história merecem ser conhecidas por todo o mundo. É uma história que inspira e liberta.
Seguindo a mesma linha, temos Tom Hanks voltando as premiações interpretando Fred Rogers, em A Beatiful Day In The Neighborhood, de Marielle Heller. Hanks, que já tem dois Oscar de Melhor Ator, desta vez foi indicado como Melhor Ator Coadjuvante, e esse é um dos principais erros do filme. Assim como Harriet, Rogers, ou Mr. Rogers como é conhecido, ficou na história norte-americana, mas de uma maneira bem diferente.
Fred Rogers foi um apresentador infantil dos Estados Unidos, que manteve seu programa, Mister Roger’s Neighborhood, no ar de 1968 até 2001. Todos sabemos que o meio artístico é muito problemático e volta e meia surge algum escândalo envolvendo algum ator, diretor, apresentador ou alguém dessas áreas, e é muito difícil uma pessoa que esteve mais de trinta anos envolvido com esse meio não ter nada que o prejudique. Este é Mr. Rogers, o homem mais bondoso da América. Assim como o ator que o interpreta, Tom Hanks. Infelizmente, essa é a única coisa que os liga: o imaginário popular como bons homens. Mas o ator não está mal no papel, apenas foi escalado de forma errônea visto que nada se parece com o icônico apresentador, pois enquanto Rogers é esguio, Hanks está bem em forma.
Como disse anteriormente, o filme peca em indicar Hanks como coadjuvante, o que ele realmente é neste filme. O longa de Heller tem Hanks na capa e tem como título a primeira estrofe da abertura do programa de Rogers, mas a história usa o personagem como escada para o personagem principal resolver seus problemas. Isso não seria um problema se a história que é contada não fosse algo que já vimos milhares de vezes: um homem tem problemas com o pai e no decorrer do filme ele consegue enxergar outras coisas além do seu ego. Dito isso, acrescento que a história de Rogers é melhor contada no documentário Won't You Be My Neighbor? (2018), de Morgan Neville. Apesar da qualidade questionável do longa, o personagem secundário é muito peculiar e merece ser conhecido.
Falando em personagens reais, o brasileiro Fernando Meirelles dirigiu The Two Popes, que conta uma fictícia história de amizade e conversas entre os Papas Bento XVI e Francisco. O filme foi indicado em várias categorias: Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado. Este já é um filme que muitas pessoas viram, pois o acesso a ele é mais fácil visto que sua distribuidora é a Netflix, porém por se tratar de um filme de cunho religioso, e ainda mais sobre conversas entre Papas, vejo que outras pessoas se recusaram a assistir por esses motivos. Confesso que filmes que tratam dessa temática também não me agradam muito, mas esta foi uma bela surpresa de como um roteiro bem escrito com boas atuações podem fazer um filme ser bom. As conversas entre os dois personagens são bem ágeis, fazendo com que a narrativa não fique entediante. O trabalho de Meirelles tenta desmistificar a persona santifica dos Papas, mostrando que são seres humanos com seus defeitos e personalidades bem distintas. Ainda que romantize um pouco algumas figuras, é bem interessante observar a fluidez do roteiro e interpretação de Jonathan Pryce como o Papa Francisco.
Pryce está há décadas na indústria cinematográfica, mas nunca teve seu devido reconhecimento, assim como Antonio Banderas, indicado a Melhor Ator com o novo trabalho de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que também concorria em Melhor Filme Internacional. Almodóvar traz uma autoficção neste longa, pois narra momentos de sua vida com alguns toques criados para o filme. O cineasta espanhol está com 70 anos, e essa obra é fruto de toda a maturidade que adquiriu ao longo dos anos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. É um filme pessoal, que buscar se reencontrar com o próprio diretor, rememorando a sua trajetória como artista, seus antigos amores, romances inacabados e seus problemas de saúde. É tocante ver como Banderas, amigo de longa data do diretor, consegue transpassar os diversos momentos da vida de Almodóvar, numa interpretação contida, que diverge muito do vencedor da noite por exemplo, Joaquin Phoenix em Joker. O próprio Banderas defende a sua atuação mesmo sem intenção disto no filme, quando ele diz: “Um bom ator não prova que é um bom ator chorando, e sim contendo suas lágrimas”, e é merecedora a sua indicação, e espero que este filme seja um marco transicional nas carreiras de Almodóvar e Banderas.
Outro velho conhecido da Academia é Martin Scorsese, que mesmo que quase sempre seja esnobado nas premiações, continua a fazer incríveis obras. Scorsese debutou como diretor em 1967, e até hoje só venceu um Oscar, o de Melhor Diretor em 2007 por The Departed, quando seus amigos Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e George Lucas lhes entregaram a estatueta. Com 77 anos, o diretor volta aos seus filmes sobre máfia, como Goodfellas (1990) e Casino (1997), mas com um olhar muito mais melancólico sobre a vida. Aqueles jovens mafiosos, agressivos e irritados, agora estão velhos, cansados e reflexivos. Quando se olha pra traz e percebe toda a trajetória dos quatro grandes personagens do filme (De Niro, Pacino, Pesci e Scorsese), se percebe que é um filme sobre despedidas. O diretor ainda traz um pouco daquela clássica agressividade mafiosa, porém os personagens estão em outra fase de suas vidas, assim como os atores e o cineasta. É algo mais ficcional, mas que conversa bastante com o trabalho de Almodóvar, Dolor y Gloria.
Este é The Irishman, que concorreu a dez categorias e não levou um prêmio sequer. Também distribuído pela Netflix, muita gente passou por esse filme e se assustou com as três horas e meia de duração, mas esquecem que, por exemplo, Avengers: Endgame (2019) tem três horas e Titanic (1997) tem três horas e meia também. Infelizmente o filme se tornou uma piada por conta disso (tanto a duração quanto a premiação), mas com certeza marcou a carreira do diretor nessa nova fase de sua vida, que já havia se iniciado com The Silence (2017), um filme bem pessoal e também reflexivo.
Mas um filme que não saiu zerado da noite foi o surpreendente Ford v Ferrari, de James Mangold, que acabou abocanhando dois prêmios técnicos: Melhor Montagem e Melhor Edição de Som, surpreendendo a grande parte do público que o ignorou achando que era apenas mais um filme de “carro/corrida”. Este também não é um dos meus temas preferidos no cinema, mas a história que Mangold nos conta é interessantíssima. Na década de 1960, grandes fabricantes de carros eram rivais, como a Ford e a Ferrari, mas uma era mais voltada para o grande público e outra era mais restrita às competições. Uma dessas competições é praticamente uma prova de resistência, a 24 Horas de Le Mans, na qual os participantes correm um circuito durante vinte e quatro horas. A Ferrari vencia esta competição há seis anos consecutivos, então a Ford resolveu quebrar essa hegemonia e contratar uma grande equipe que fosse capaz de desenvolver o melhor carro para isso, e também achar o melhor piloto.
Mangold nos faz ficar vidrados durante as corridas, e até nos comover com os dramas do personagem principal, Ken Miles, interpretado por Christian Bale. É uma história que tem um pano de fundo automobilístico muito interessante, e mostra como essas grandes empresas lidam com seus trabalhadores. Ford v Ferrari é um trabalho que vai além de um simples filme de corrida, e coloca novamente o diretor aos olhos da Academia.
Esses são filmes que muita gente irá ignorar após as premiações terem sido finalizadas, mas creio que cada uma delas tem algo de interessante para ser visto. Acho que esse Oscar nos apresentou a muitas boas histórias, divertidas e emocionantes e que mudaram de certa forma a história dos Estados Unidos, como em Harriet, A Beatiful Day In The Neighborhood e até Ford v Ferrari. Além disso, trouxe de volta renomados diretores com grandes trabalhos, como Clint Eastwood, Pedro Almodóvar e Martin Scorsese. Também quebrou um enorme tabu com Parasita, mas não nos enganemos com isso, pois os indicados foram em grande maioria homens e brancos.
Foi um excelente ano para a sétima arte, e que esta década seja incrível também.